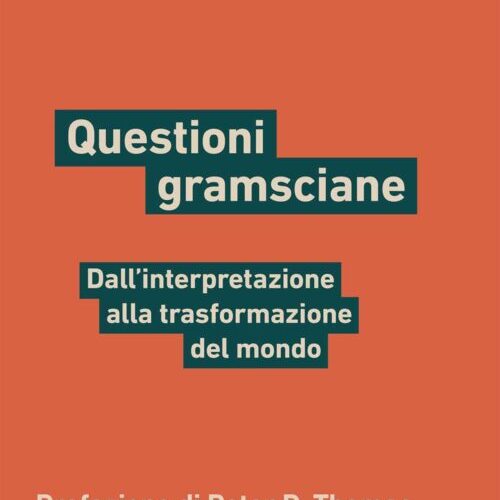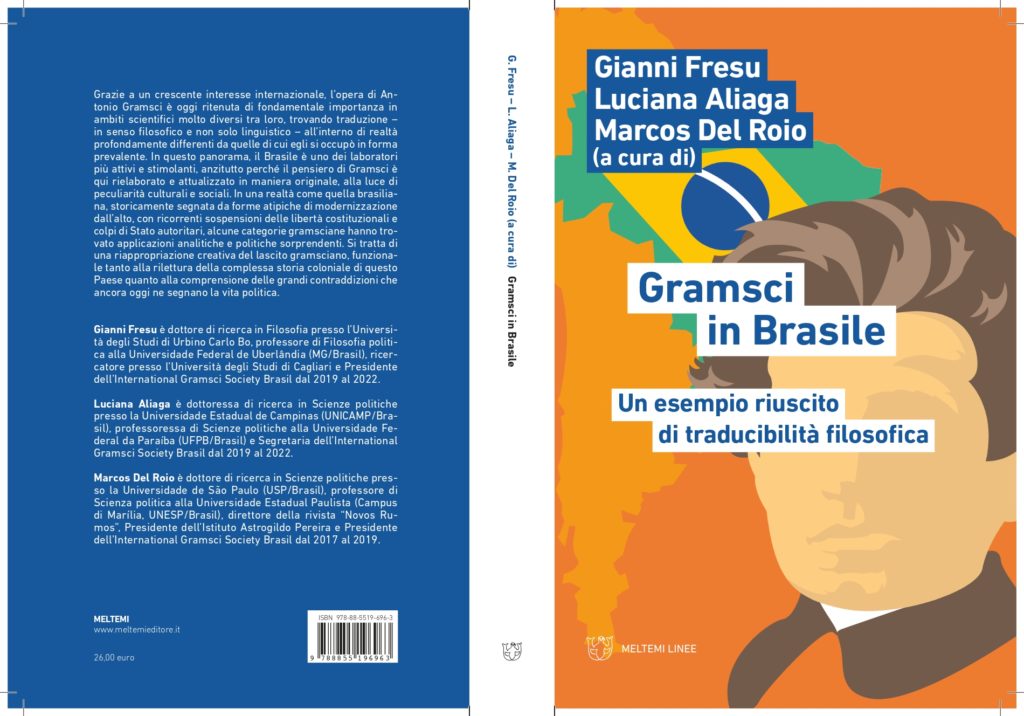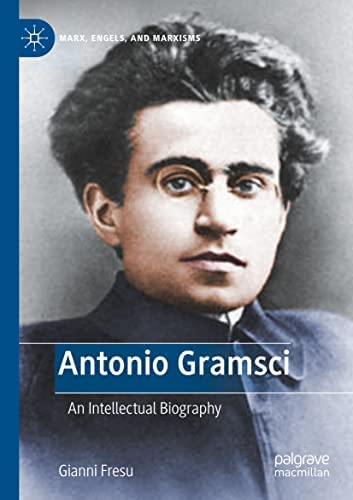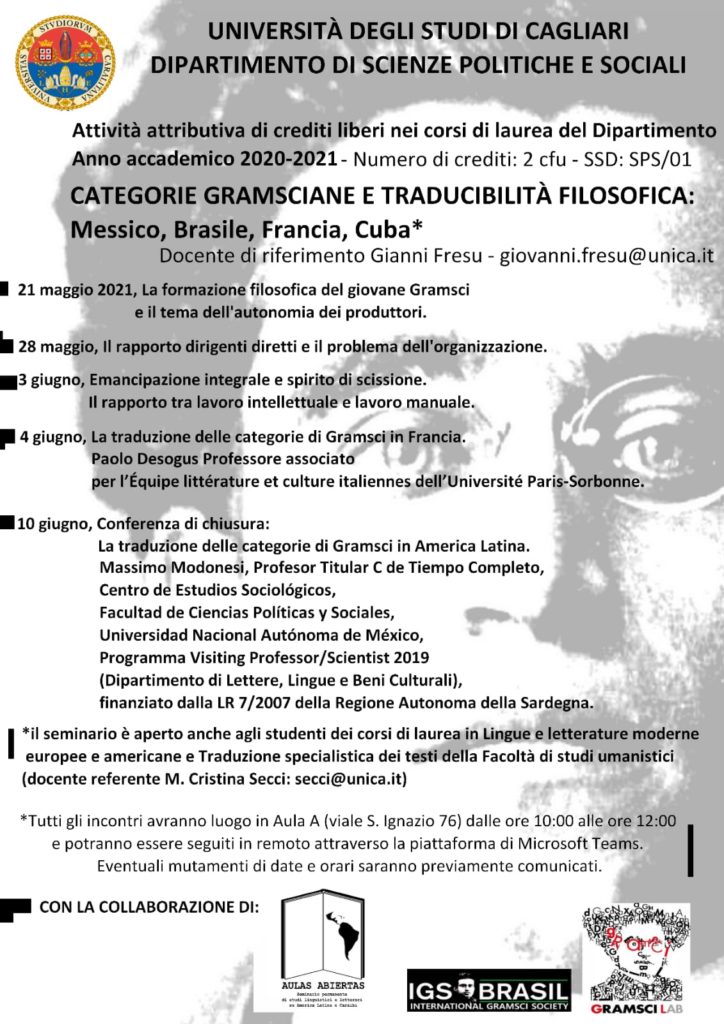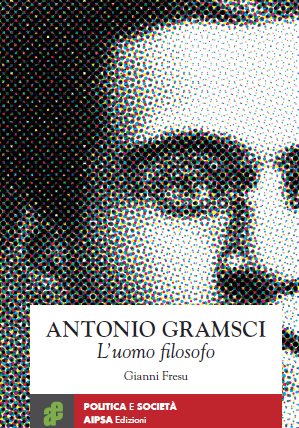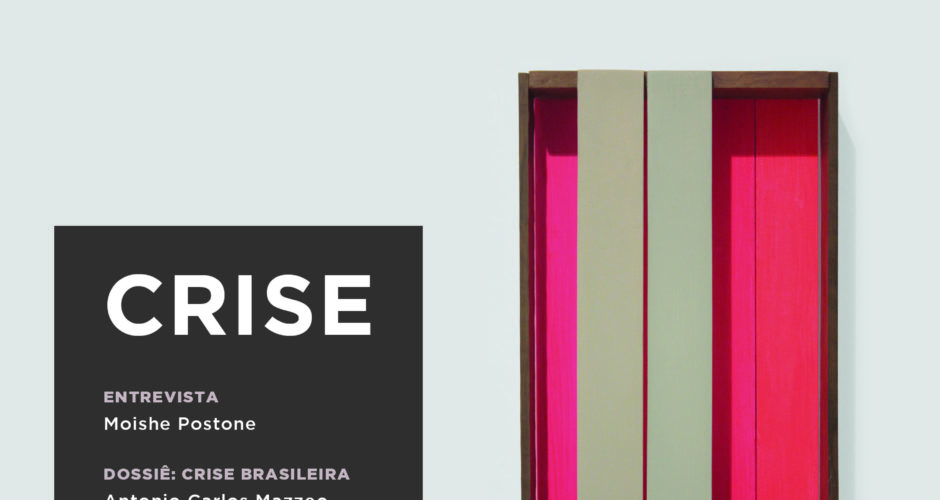(“L’Unione Sarda”, 18/10/24, Prima pagina (Editoriale)
Come è a tutti noto, in Sardegna, attorno ai progetti che intendono creare dei parchi eolici e fotovoltaici, è in corso uno scontro durissimo che contrappone i comitati delle comunità coinvolte alle grandi compagnie energetiche. I movimenti mobilitatisi in difesa del proprio patrimonio produttivo, storico e ambientale denunciano l’approccio neocoloniale sotteso al piano: trasformare l’isola, già sovraccaricata dal 65% delle servitù militari di tutta l’Italia, in grande una piattaforma di produzione energetica quasi totalmente funzionale alle esigenze del continente e alle logiche speculative e di profitto delle multinazionali.